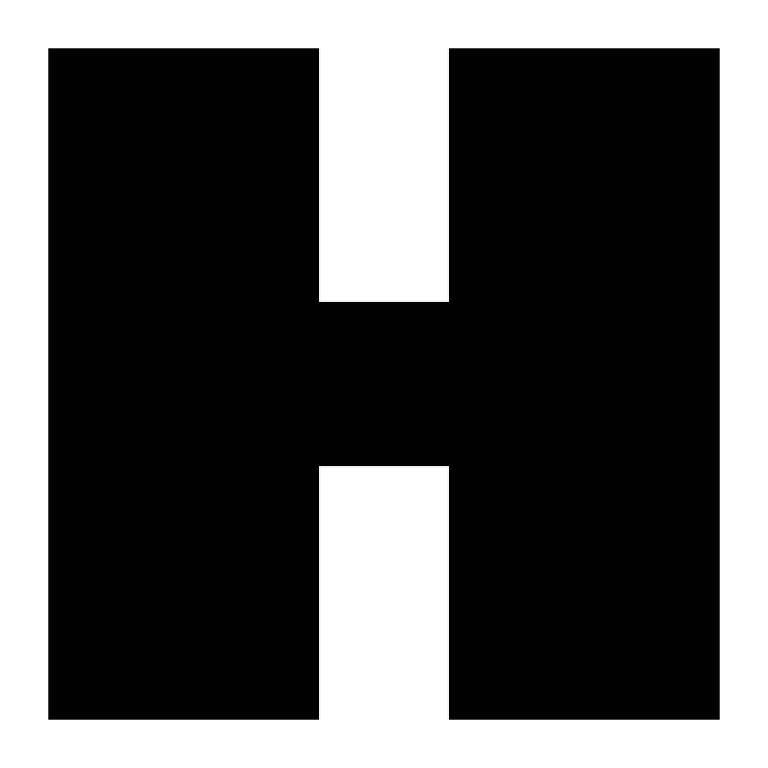O dilema da ‘excepcionalidade’ peruana
A cada nova escolha de um presidente no Peru, a pergunta surge: “por que os mandatários peruanos consomem tão rápido sua popularidade?”. A pergunta é pertinente, basta ver as cifras mais recentes. Alejandro Toledo (2001-2006) tocou fundo, chegando a governar com apenas 8% de aprovação popular. Alan García, que teve dois períodos como presidente (1985-1990 e 2006-2011), conviveu longamente com o patamar em torno dos 15%. Ollanta Humala (2011-2016) terminou sua gestão com 17%.
Importante lembrar que, diferentemente de outros países da região, o Peru é pouco dado a aventuras populistas. É certo que houve o esquerdista Velasco Alvarado (1968-1975). Um dos inspiradores de Hugo Chávez, Alvarado restringiu direitos e perseguiu opositores, mas lançou uma ampla reforma agrária que foi muito popular, além de outros projetos mirando a justiça social. Porém, foi um general que chegou ao poder por meio de um golpe e que implementou um regime militar.
Outro que tentou uma aventura autocrática foi Alberto Fujimori (1990-2000). Apesar de ter conquistado a admiração de boa parte da sociedade –tanto que o fujimorismo existe até hoje, embora com força residual–, sua gestão não acabou nada bem e está atrás das grades, na prisão de Callao, perto de Lima, cumprindo uma pena de 25 anos por corrupção e abusos de direitos humanos.
Fora esses casos, o país praticamente não se prostrou a louvar nenhum líder carismático ou com um discurso de salvador da pátria.
Essa “excepcionalidade peruana” volta à tona agora. Não apenas porque temos uma nova eleição no horizonte –em 11 de abril–, mas porque desta vez sequer estamos discutindo um presidente que chega ao fim do período com baixa popularidade, como era o costume. Mas sim que este nem chegou, e o mandato termina com pouco oxigênio e um líder-tampão.
No mandato do período de 2016-2021 houve nada menos que quatro presidentes (e ainda dá tempo para mais um…). O primeiro, Pedro Pablo Kuczynski, eleito pelas urnas, renunciou quando o Congresso levou adiante pela segunda vez uma moção de vacância por conta de seu possível envolvimento com escândalos de corrupção.
Depois, veio um de seus vices, Martín Vizcarra, que até teve alta popularidade por um momento, mas não conseguiu governabilidade e, sem apoios, também perdeu seu cargo para um Congresso opositor. Um terceiro, Manuel Merino de Lama, teve um mandato ainda mais curto do que esta frase para explicar quem ele foi, pois durou apenas cinco dias. E o atual, Francisco Sagasti, acabou sendo uma grata surpresa entre as opções existentes. Porém, tampouco apresenta uma gestão robusta, ainda mais por ter assumido no meio de uma pandemia que golpeou o país mais do que qualquer outro na América do Sul até agora.
Pode-se pensar que a tal “excepcionalidade peruana” seja algo positivo, pois poupa o país de ter que lidar com caudilhos que insistem em se perpetuar no poder. O outro lado da moeda, porém, é que o atual sistema político, que mistura parlamentarismo e presidencialismo, pode funcionar muito bem nas condições adequadas. Mas quase nada quando as instituições passaram por um longo desgaste durante os anos do fujimorismo, que também fragmentou e debilitou os partidos e quando praticamente todas as agrupações foram corroídas pela corrupção. Tudo isso somado se mostra claro na apatia que mais de 50% dos eleitores mostram diante da eleição que vem por aí.
Mas, o que explica, historicamente, essa “excepcionalidade” peruana?
A origem remonta aos tempos coloniais. Embora hoje não se pense em Lima como a principal metrópole regional, ela foi o centro do sistema nervoso do domínio espanhol nas Américas. Fundada por Francisco Pizarro em 1535, virou sede das operações do Império na região. No que hoje é o Peru encontrou-se ouro em abundância, e em torno dessa riqueza se construiu uma faustosa cidade, capital do Vice-Reinado do Peru, o mais importante da América do Sul, onde se tomavam decisões para toda a região.
Pizarro havia destronado nada menos que um imperador inca, Atahualpa. Desde então, está introjetada na cultura peruana a rejeição aos líderes que vieram depois de Pizarro, considerados herdeiros dos usurpadores do trono.
Assim como a fundação do Vice-Reinado foi na base da força, derrubá-lo custou muito. As tentativas dos “criollos” independentistas locais foram violentas e começaram muito cedo em comparação com outros países da América do Sul.
Um exemplo disso foi a famosa rebelião de Túpac Amaru 2, em 1780, reprimida de modo brutal pelos espanhóis. Houve, ainda, a rebelião de Tacna, em 1811 e a de Cuzco, em 1814, igualmente massacradas. Para os espanhóis, perder o Vice-Reinado do Peru seria uma derrota imensa, muito mais, por exemplo, do que perder o distante e bem mais pobre, nessa época, Vice-Reinado do Prata. Por conta disso, as tropas realistas o defenderam a ferro e fogo.
A tarefa foi tão difícil que não bastaram as forças locais, foi preciso chamar ajuda estrangeira para alcançar a independência. Essa ajuda veio por meio das colunas lideradas pelos dois mais importantes libertadores da América, o general San Martín, vindo do que hoje é a Argentina, e Simón Bolívar, vindo do que hoje são Colômbia e Venezuela.
Se com algo se acostumaram os peruanos, portanto, foi ao enfrentamento com relação ao poder. E uma rejeição muito grande à tentativa de implementar governos muito centrados na figura de uma só pessoa, assim como cercados de luxos e marcos imponentes, como era o domínio espanhol.
Neste ano em que o Peru, em plena crise institucional, elege um novo presidente e parlamento, comemora-se também seus 200 anos da independência. A libertação do país foi proclamada em 28 de julho de 1821, por San Martín, em cena retratada no quadro que ilustra este post.
Há historiadores que explicam o inconformismo do peruano com a autoridade a partir da cultura nascida com esse trauma que foram os difíceis anos da colonização e as sangrentas batalhas pela independência. Daí teria nascido essa rejeição tão aguçada a qualquer autoridade.
Por conta disso, não teria havido espaço para movimentos de adoração a uma só pessoa, como aconteceu com o peronismo (Argentina) ou o chavismo (Venezuela), ou a um grupo de origem revolucionária, como o PRI (México).
O que o Peru tinha durante todo o século 20, porém, eram partidos com personalidade ideológica clara. E isso dava riqueza aos debates e sustento para o sistema político. Mas o fujimorismo destruiu isso. Ao promover um Estado enxuto, deixou o poder Executivo mais fraco. Um presidente eleito hoje não tem muito poder para grandes reformas, pois a máquina que governa é pequena. O fujimorismo ainda desgastou muito os partidos, por meio do fechamento, ainda que temporário, do Congresso, da perseguição a líderes políticos, e da criação de um aparato para-estatal para reprimir opositores, como o grupo Kolina.
Daí que, nos tempos atuais, tenha sido tão difícil conquistar maiorias parlamentárias. As legendas dos partidos já não significam o que eram no passado. No Ação Popular, provavelmente poucos se lembrem de Belaúnde Terry, promotor de reformas modernizadoras nos anos 1960. Assim como o esquerdista Apra (Aliança Popular Revolucionária), de Víctor Raúl Haya de la Torre.
Com tamanha falta de compromisso ideológico, a maioria dos políticos se filiam a partidos apenas por conveniência e para defender os interesses de seu grupo social e econômico. Num sistema político que promove a formação de consensos em torno de cada questão em debate, que não haja uma estrutura de pensamento nos partidos leva à fragmentação e à formação de complôs e intrigas. Foi nesse campo minado que tentaram sobreviver os últimos presidentes.
E é esse o terreno minado que enfrentará o próximo…