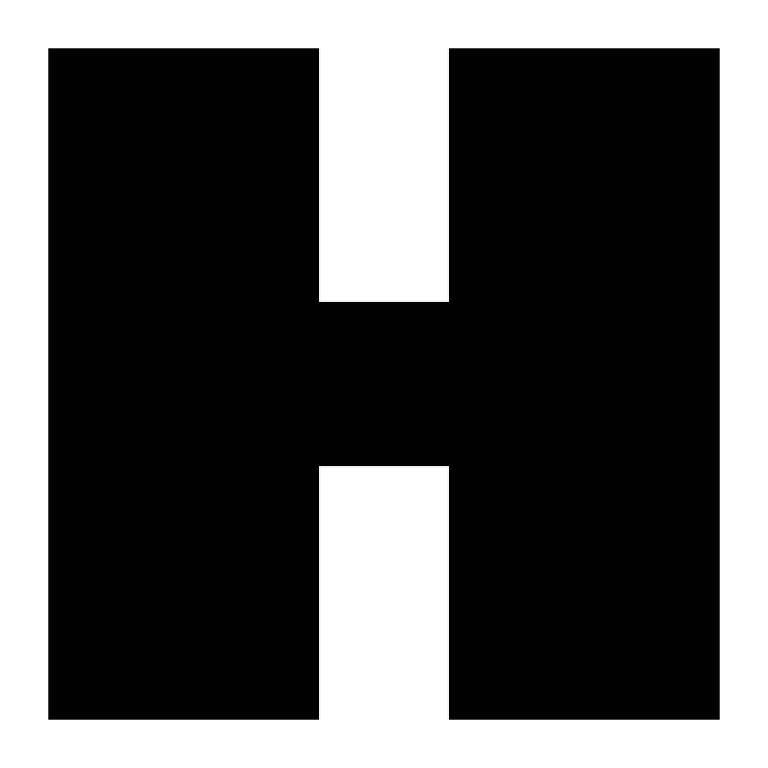Terapias químicas e sociais contra a peste
A aventura dos helenos contra os troianos quase deu com os burros n’água por causa da peste. Homero começa a narrar a Ilíada pelo impasse em torno da praga que durante nove dias fez arderem sem cessar as piras dos mortos no exército invasor estacionado às portas da cidade fortificada.
Os comandantes gregos tinham aprontado com a pessoa errada. Agamenão, o rei maioral, tomara a filha de um sacerdote de Apolo como butim. Em vão, o sacerdote tentou negociar com o monarca o resgate da garota. Apelou então a seu pistolão no Olimpo, e o divino arqueiro desceu furibundo em socorro a seu protegido. “Chegou como chega a noite.”
Pôs-se a disparar as setas da pestilência contra os aqueus, que tombavam, e só parou quando o rei grego mudou de ideia e devolveu a filha ao sacerdote –não sem enfurecer na transação o herói Aquiles, o que deu pano para manga.
“Flecha de Apolo” (Apollo’s Arrow) é o título do livro que o médico, sociólogo e pesquisador da Universidade Yale Nicholas Christakis lançou no final de outubro sobre a Covid-19. As suas predições têm chamado a atenção de comentaristas, mas os mergulhos na experiência clínica do autor e na história me atraíram mais.
Christakis recruta a riquíssima tradição da medicina social britânica. William Farr, sob cujas lentes o impacto das desigualdades sociais na mortalidade e na saúde ficou mais evidente, propôs em meados do século 19 o método, já comentado aqui, de computar o excesso de mortes como meio de estimar o efeito das epidemias. Mais de um século depois, o médico e historiador Thomas McKeown provocou entusiastas da farmacologia com gráficos como o abaixo.
Note que a tuberculose, uma das grandes assassinas da história da humanidade, já havia declinado substancialmente na Inglaterra quando, após a Segunda Guerra Mundial, antibióticos e vacina foram disseminados para o seu enfrentamento. Algo semelhante ocorreu nas curvas históricas de outras doenças, como a febre tifoide, a escarlatina e o sarampo.
McKeown advogou que fatores não diretamente médicos precederam (e preponderaram sobre) a medicina –farmacologia e imunologia incluídas– na prevenção de mortandades causadas por moléstias infecciosas. Embora ele tenha superestimado a importância da nutrição e da habitação e subestimado fatores como o saneamento básico e outras intervenções do poder público, o sentido geral da sua conjectura veio se confirmando pela pesquisa especializada.
Tire o cavalo da chuva quem gosta de polarizar tudo. O debate instalado pelo historiador britânico não é sobre se drogas, vacinas, terapias e hospitais salvam vidas. Claro que salvam. Ele estava preocupado com estabelecer o peso de cada fator na evolução secular e escrevia numa altura do século 20 em que se louvava exageradamente o poder da medicina.
HIV, ebola, Mers, gripe suína, Sars 1 e 2 vieram mais tarde esclarecer que nosso pacto fáustico com a salvação pela química não era tão firme e não dispensava iniciativas organizacionais e individuais não farmacológicas no seu combate.
A nota serena de mirar o duelo milenar entre a humanidade e as doenças infecciosas, para mim o ponto alto do livro de Nicholas Christakis, é compreender que pode levar tempo, mas sociedades e patógenos quase sempre acabam encontrando um meio de conviver entre si com menos danos. Chegam a uma trégua relativa.
A arrogância de Agamenão não resiste a dez dias de flechadas de Apolo.