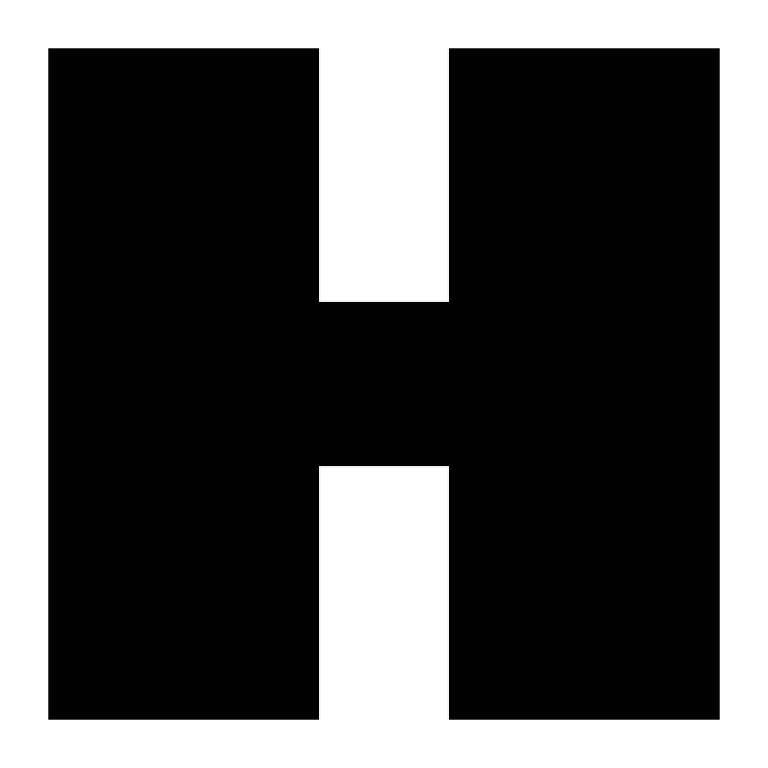Na querela da vacina, positivistas mentiram, conspiraram e fizeram gol

Não me parece simples entender o movimento antivacina que arrebatou um pedaço da sociedade carioca, inclusive de seu setor popular, em 1904. Há algumas interpretações na praça da historiografia. Jeffrey Needell (1987) contrasta o destino da elite golpista, frustrada na tentativa de escorraçar os oligarcas paulistas do governo mas anistiada de pronto, com o do bloco popular, castigado em várias frentes durante e após o levante do final daquele ano.
Teresa Meade (1989) insere o episódio numa marcha mais longa de resistência à deterioração e ao encarecimento das condições de vida, que culminaria na mobilização grevista e sindical de 1917. Focalizam as camadas populares, e o entrechoque com os saberes e interesses da elite, também os trabalhos difundidos de Sidney Chalhoub (1996) e Nicolau Sevcenko (1984). José Murilo de Carvalho (1987) fala do primeiro movimento moralista da nossa história.
Para esses intérpretes, com ressalva parcial de Carvalho, o movimento e a Revolta da Vacina davam vazão a conflitos, interesses e fatores mais profundos do que exibiam na fachada. Não era só pelos 20 centavos –não era só para protestar contra a exorbitância do governo, que em contextos civilizatórios não sai por aí espetando pessoas contra a vontade delas.
Entendo e concordo com o enquadramento geral: havia mais coisas entre o céu e a terra. Mas e se nos restringíssemos ao tema em si para tentar entender o debate da época? Por exemplo: como se comportaram os positivistas, essa mistura de seita religiosa com doutrina social e movimento político que influenciou os destinos do Brasil como talvez o de nenhuma outra nação entre o final do século 19 e início do 20? Eles apanharam à beça de contadores dessa história.
Positivistas foram acusados de disseminar falsidades, de pregar o obscurantismo antimicrobiano e de manipular o tema para desfechar um golpe pretoriano contra o presidente Rodrigues Alves. Se você procurar um pouco, vai achar elementos que confirmam essas acusações. Havia, contudo, nuances que um adepto tardio do positivismo, Ivan Lins (não o cantor, mas o escritor e ensaísta mineiro) soube explorar no volume A História do Positivismo no Brasil (1964).
A primeira linha de defesa é que havia divergências entre positivistas. O médico Luís Pereira Barreto defendia a vacina e sua obrigatoriedade. Já seu colega de profissão Joaquim Bagueira Leal, que como Teixeira Mendes e Miguel Lemos integrou a cúspide o Apostolado Positivista, atacava os dois flancos e atiçava o medo das consequências da agulhada.
Bagueira Leal, veja só a complicação, também se notabilizara pelo combate ao “despotismo sanitário”, que de fato esticava seus tentáculos sobre os cidadãos. E aqui vem a segunda linha de defesa de Ivan Lins: a oposição à obrigatoriedade da vacina era frequente entre os positivistas, significava apenas predicar o bom senso civilizatório e era compartilhada com outras figuras públicas da época insuspeitas de positivismo, como Rui Barbosa.
“Até aqui, até à pele que nos reveste pode chegar a ação do Estado. Sua polícia poderia lançar-me a mão à gola do casaco, encadear-me os punhos, lançar-me ferro aos pés. Mas introduzir-me nas veias, em nome da higiene pública, as drogas da sua medicina, isso não pode, sem abalançar-se ao que os mais antigos despotismos não ousaram”. Assim discursou o senador baiano Rui Barbosa em 16 de novembro de 1904, nos debates que levaram à revogação da obrigatoriedade da vacina e à instalação do estado de sítio.
Quem leu o voto do ministro Ricardo Lewandowski no último dia 16 sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 notou que as lições do episódio de 1904 foram emolduradas como paradigma e que a visão de Rui e de muitos positivistas neste aspecto prevaleceu: o corpo é inviolável; a dignidade humana, inexpugnável. O que o Estado pode fazer para estimular a vacinação é criar constrangimentos indiretos, aprovados em lei, contra quem decidir não se imunizar.